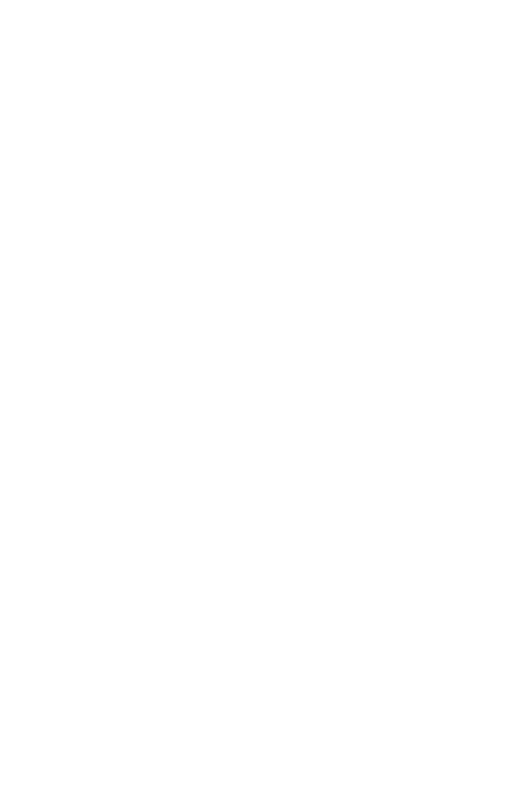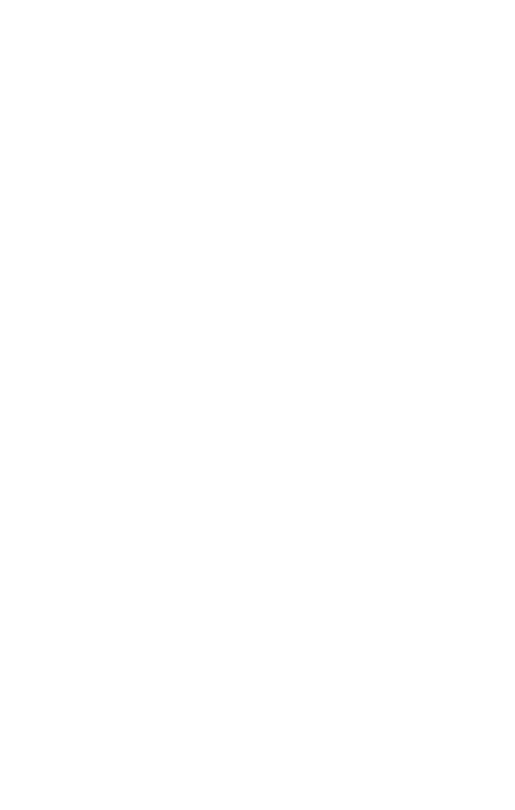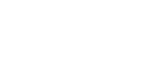O racismo ambiental como conceito se mostra relevante na prática no Brasil, onde os territórios e a vida dos povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas são constantemente ameaçadas por invasões e incêndios
Texto: Pedro Braga | Edição: Nataly Simões | Imagem: Reprodução
Durante uma sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, no dia 4 de outubro, representantes do governo brasileiro questionaram o uso do termo “racismo ambiental” para abordar a intersecção entre injustiça racial e ambiental.
O posicionamento do governo Bolsonaro ocorre às vésperas da Cúpula do Clima, em Glasgow – a COP26. Foi nesse contexto que o representante do Brasil na sessão contestou o termo e seu uso pela Organização das Nações Unidas. “Notamos que o chamado racismo ambiental não é uma terminologia internacionalmente reconhecida”, disse o diplomata.
Acontece que o próprio evento tinha como base um relatório recente do Conselho da Nações Unidas que apontou para o uso do racismo como elemento para “normalizar a exploração e o descaso, abrindo oportunidades para se gerar lucro às custas da vida, dos recursos e das terras das pessoas”. O relatório da ONU cita como um dos exemplos de situação de racismo ambiental o caso das comunidades quilombolas no Brasil – que sofrem consequências diretas da crise climática por morarem, muitas vezes, em territórios não demarcados.
O relatório intitulado “Justiça Ambiental, Crise Climática e Pessoas de Descendência Africana” afirma que “as pessoas com ascendência africana continuam sujeitas ao racismo ambiental e são desproporcionalmente afetadas pela crise climática.” De acordo com o documento, o racismo ambiental “refere-se à injustiça ambiental na prática, nas políticas públicas e significa uma manifestação contemporânea mensurável de racismo, discriminação racial, xenofobia, afrofobia e intolerância relacionada.”
Falando em nome do Brasil na sessão das Nações Unidas, porém, um representante do Itamaraty deixou claro que o termo não era aceito pelo governo Bolsonaro. O mesmo governo é alvo de críticas tanto por sua política ambiental como por seu posicionamento sobre o racismo.
“Nenhuma forma de racismo deve ser tolerada”, disse o governo. “Mas para o Brasil, a discussão sobre a relação entre problemas ambientais e questões sociais, como racismo, deve levar em consideração um enfoque equilibrado e integrado à dimensão social, econômica e ambiental”, conclui.
A ONU também afirma que o racismo ambiental não pode ser discutido isoladamente. “Como consequência do racismo histórico e estrutural, dos modelos econômicos exploradores e do legado do comércio de africanos escravizados, pessoas de ascendência africana viveram segregadas, e foram tomadas decisões que as expuseram de forma desproporcional aos riscos ambientais”, afirma o documento.
A origem do termo
O termo “racismo ambiental” foi abordado pela primeira vez pelo líder e ativista pelos direitos civis Dr. Benjamin Franklin Chavis Jr, em 1981, numa época de manifestações do movimento negro contra injustiças ambientais nos EUA. Segundo ele, “racismo ambiental é a discriminação racial na elaboração de políticas ambientais, aplicação de regulamentos e leis, direcionamento deliberado de comunidades negras para instalações de resíduos tóxicos, sanção oficial da presença de venenos e poluentes com risco de vida a comunidades e exclusão de pessoas negras da liderança dos movimentos ecológicos.”
O termo ganhou renovada saliência em anos recentes, graças a alianças entre organizações antirracistas e o ativismo climático. Esses movimentos buscam destaque e apoio para as comunidades que mais sofrem os efeitos da economia de combustíveis fósseis, entre os quais estão a exposição a resíduos tóxicos, inundações, contaminação pela extração de recursos naturais e industriais, carência de bens essenciais ou a exclusão da administração e tomada de decisões sobre as terras e os recursos naturais pelas populações locais.
Ainda de acordo com o documento da ONU, a questão do racismo climático também se manifesta na relação entre os países. “Internacionalmente, os resíduos perigosos continuam a ser exportados para países do Sul global com políticas ambientais e práticas de segurança laxistas.”
Enquanto o governo atua para tentar impedir que o termo seja utilizado em discussões oficiais, outros brasileiros lutam para dar destaque ao tema. Ângela Mendes, filha do ativista Chico Mendes, tomou a palavra na ONU e defendeu a criação de uma relatoria para avaliar a crise climática e supervisionar governos e empresas.
De acordo com ela, essa ideia dará poder aos setores mais impactados pela crise climática. “Fazemos um chamado aos membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU para que aprovem o projeto”, falou — em nome de 34 entidades brasileiras e internacionais, como OAB, Amazon Rebellion, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Comitê Chico Mendes, Conselho Indigenista Missionário e Human Rights Watch.
O racismo ambiental como conceito se mostra relevante na prática no Brasil, onde os territórios e a vida dos povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas são constantemente ameaçadas por invasões e incêndios.
O próprio marco temporal (PL 490/2007) é apontado como um exemplo claro de racismo ambiental. Se aprovado, impedirá os povos indígenas de exercerem seus direitos de sua maneira tradicional, em relação à natureza e aos recursos naturais — subtraindo o caráter fundamental de ancestralidade e limitando seus direitos a 1988.
“Em um mundo que a raça define a vida e a morte, não a tomar (a raça) como elemento de análise das grandes questões contemporâneas demonstra a falta de compromisso com a ciência e com a resolução das grandes mazelas do mundo”, resume o presidente o presidente do Instituto Luiz Gama, Sílvio Almeida, autor do livro “Racismo Estrutural”.
Este conteúdo é resultado de uma parceria da Alma Preta com a Purpose e o Fervura no Clima para o Dia 12 de Outubro, Dia Mundial de Prevenção aos Desastres Naturais.